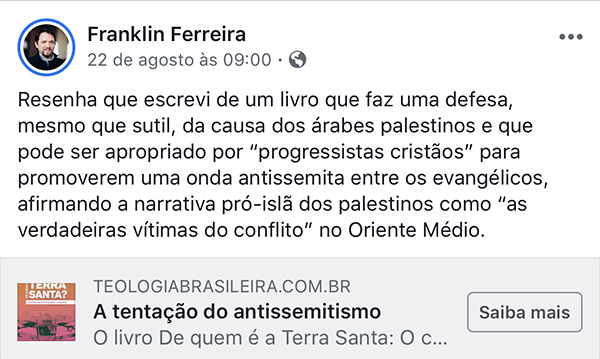Liberdade para expressar opiniões diferentes
- 13/09/2019
- Postado por: Martureo
- Categoria: Blog

Resposta de Colin Chapman à “A tentação do antissemitismo”, uma resenha de Franklin Ferreira do livro De quem é a Terra Santa?
Em 7 de agosto de 2018, o site Teologia Brasileira publicou texto de Franklin Ferreira sobre o livro De quem é a Terra Santa? – O contínuo conflito ente Israel e a Palestina. A obra, de Colin Chapman, foi publicada no Brasil em 2017 pela Editora Ultimato em parceira com o Martureo e o Seminário Teológico Servo de Cristo. No último 22 de agosto, a resenha foi repostada no Facebook de Ferreira.
Valorizamos a liberdade de poder expressar opiniões diferentes mantendo a unidade do Espírito pelo vínculo da paz (cf. Ef 4.3), por isso publicamos, a seguir, a resposta de Chapman.
Sou muito grato ao professor Ferreira por sua crítica detalhada sobre meu livro De quem é a Terra Santa? e grato ao Martureo pela oportunidade de respondê-la.
A primeira das três partes do livro aborda a história do conflito israelense-palestino. Isso se dá, principalmente, pelo fato de boa parte dos cristãos no Ocidente conhecer pouco a respeito dessa história, ou basear seu conhecimento em livros sobre interpretação de profecias que são especialmente solidários em relação ao Estado de Israel.
Rev. Ferreira está correto ao enfatizar a importância de localizarmos as origens do conflito nos dias finais do Império Otomano. Porém, muito mais importante que a venda de terras pelos palestinos a colonos judeus (algo que ele quer enfatizar, e que é discutido em detalhes no livro), é o fato de que, quando o movimento sionista estava começando na década de 1880, os judeus eram menos de 5% da população total da Palestina. Os árabes só começaram a ser antagônicos em relação aos colonos judeus quando perceberam que muitos deles queriam eventualmente tornarem-se majoritários e estabelecerem uma pátria judaica, senão um estado judeu.
A área havia sido chamada “Palestina” durante quatro séculos de domínio otomano, e os judeus denominavam-se judeus palestinos. Enquanto sob domínio otomano, os árabes na Palestina não poderiam jamais ter sonhado com independência ou soberania, eles tinham plena consciência que eram diferentes dos árabes dos países vizinhos. A origem do conflito entre israelenses e palestinos precisa, portanto, remontar ao sentimento dos árabes palestinos de estarem sendo despojados de suas terras por um movimento colonizador que queria assumir o controle do país.
O segundo fato relativo ao período otomano que merece destaque é que o apoio da Grã-Bretanha ao movimento sionista, expresso na Declaração de Balfour de 1917, não surgiu de uma preocupação humanitária para com o povo judeu, mas foi determinado por ambições imperialistas da Grã-Bretanha. No momento em que houve um sangrento impasse na Guerra no fronte ocidental europeu, os britânicos acreditaram que poderiam enfraquecer a Alemanha expulsando os otomanos da Palestina. Eles também acreditavam que, ao apoiar a imigração de judeus para a Palestina, eles contariam com uma força amiga para proteger o Canal de Suez, que era vital para a sobrevida do império britânico no Oriente. Também queriam manter os franceses fora da Palestina, bem como encorajar os judeus na América, Rússia e Europa a apoiar os aliados na guerra. Esses acontecimentos que se deram durante os dias em que o Império Otomano vivia seus momentos de agonia final parecem-me ser muito mais relevantes para o entendimento das origens do conflito do que as transformações provocadas na terra pelos colonos judeus.
Ferreira discorda do uso do termo “limpeza étnica” para descrever a tentativa por parte dos judeus, de 1947 a 1948, de expulsar o maior número possível de árabes palestinos da área designada para o estado judeu. Mas ele não o faz questionando o que aconteceu ou contestando a expressão “limpeza étnica”, mas salientando que “cerca de 20% dos cidadãos israelenses são árabes”, e que eles são representados por 13 membros do parlamento israelense. Será que ele está sugerindo que a limpeza étnica pode não ter sido muito significativa se um percentual grande de cidadãos israelenses hoje for de árabes? São historiadores judeus israelenses, como Ilan Pappe (em Ethnic Cleansing of Palestine – Limpeza Étnica da Palestina –, 2006), que documentaram com riqueza de detalhes o processo por meio do qual cerca de 750 mil árabes – três quartos de um milhão! – foram forçados ou encorajados pelos judeus a deixar suas casas. Esses árabes palestinos representavam cerca de 85 a 90% dos árabes que permaneceriam dentro do estado judeu (caso não tivessem sido expulsos). Um dos primeiros historiadores israelenses que escreveram sobre essa história foi Benny Morris em sua obra The Birth of the Palestinian Refugee Problem (O nascimento do problema dos refugiados palestinos) (1988). Desde 2004, contudo, não tendo revisado seu relato a respeito do que aconteceu, ele mantém o argumento de que o erro de Israel foi não ter realizado o processo de limpeza étnica de forma completa o suficiente visto que eles permanecem com o problema de uma minoria considerável de árabes.
Em meus relatos a respeito do contínuo conflito e das guerras desde 1948, nunca sugeri que os árabes não cometeram erros ou crimes sérios. Mas é importante nos esforçarmos para entender as motivações que os levaram a recorrer à violência em diferentes estágios e em diferentes contextos. O Mufti voltou-se para os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial porque sentiu que, durante o Mandato, os palestinos haviam sido traídos pelos britânicos, que demonstravam mais simpatia para com a causa dos judeus que para com os árabes. Os exércitos jordanianos invadiram o novo estado de Israel em 1948 porque o Rei Hussein já havia chegado a um acordo secreto com os judeus e ele queria controlar a Cisjordânia em vez de permitir a criação de um estado palestino. Foi a retórica bélica de Nasser que contribuiu para a Guerra dos Seis Dias em junho de 1967. Mas os historiadores podem apontar para as provocações por parte dos israelenses, que procuravam um pretexto para concluir os assuntos inacabados de 1948.
Quando os palestinos recorreram à violência nas duas Intifadas, a de 1987-1993 e a de 2000-2005, havia um sentimento de desesperança e de desespero por conta da contínua ocupação da Cisjordânia por Israel desde 1967.
Em novembro de 1967, o Conselho de Segurança da ONU, com base no princípio da “inadmissibilidade de aquisição territorial pela guerra”, pediu que Israel se retirasse “dos territórios ocupados no recente conflito”. Tanto é que a maior parte do mundo ainda considera ilegal a ocupação da Cisjordânia por Israel segundo as leis internacionais, e vê os assentamentos construídos na Cisjordânia como ilegais.
Árabes e muçulmanos, portanto, têm todo o direito de contestar os padrões dúbios das potências ocidentais. Elas entraram em Guerra com Saddam Hussein em 1991 para forçá-lo a cumprir uma Resolução do Conselho de Segurança que dizia para ele se retirar do Kuwait, mas não fizeram absolutamente nada para forçar Israel a cumprir uma resolução análoga que pedia a desocupação da Cisjordânia.
Hamas e Hezbollah foram, ambos, formados em situações de ocupação. Se Israel tivesse cumprido a Resolução do Conselho de Segurança da ONU em 1967 e se retirado dos territórios ocupados, o Hamas provavelmente nunca teria existido. E, se Israel não tivesse invadido o Líbano em 1982 e permanecido no sul como força de ocupação até 2001, o Hezbollah provavelmente nunca teria sido criado.
Após 11 de Setembro, os americanos poderiam ter parado para se perguntar: “Por que essas pessoas estão com tanta raiva e será que elas têm boas razões para ter raiva?”. Eu, pessoalmente, creio que, em muitos casos, elas tenham boas razões para estar com raiva. Uma das coisas tristes a respeito da resposta americana foi que, em vez de fazerem essas perguntas e tentarem entender as raízes da raiva dos terroristas, eles depositaram todas as energias na “guerra contra o terror”. Entender por que palestinos e outros árabes recorreram à violência não justifica, sequer por um momento, o uso da violência. Mas nós no Ocidente precisamos refletir sobre nossa história e reconhecer de que maneiras criamos e/ou como contribuímos para todos os diferentes conflitos no Oriente Médio.
Para muitos ocidentais – e especialmente para os cristãos – que têm uma antipatia intrínseca em relação aos muçulmanos e ao islã, é fácil colocar muito da culpa pelas respostas dos palestinos à Israel no preconceito do islã e dos muçulmanos contra os judeus. Mas, quando os árabes palestinos começaram a resistir à tomada de seu país pelos judeus, não foi porque os colonos eram judeus.
Como muçulmanos, era inevitável que os palestinos apelassem para a história e para a ideologia islâmicas para motivá-los em sua luta. Mas a razão básica para a resistência não eram as crenças islâmicas, nem tampouco o ódio contra os judeus, mas sim a sua experiência de desapropriação. Cristãos palestinos não são diferentes dos muçulmanos em sua resposta. Quando árabes muçulmanos, nas últimas duas décadas, voltaram-se de maneira ainda mais forte na direção de uma ideologia islâmica extremista, é porque, de certa forma, eles sentiram que o Ocidente os decepcionou, e que a ONU não tem poder para fazer valer o direito internacional. O islã certamente veio para prover uma forte justificativa para a antipatia árabe em relação à criação de um estado judeu tão próximo ao coração do islã. Mas não acredito, como Ferreira, que esse meu posicionamento minimize ou relativize o papel do islã.
Israel é descrito por Ferreira como “a única verdadeira democracia do Oriente Médio”. Concordo que Israel pareça ser muito mais democrático que qualquer país árabe, apesar de eu contestar a afirmação que “poucos países árabes têm sequer um parlamento”. Reivindicações dessa natureza, no entanto, ignoram o dilema fundamental com que o estado de Israel depara-se desde a sua criação: como ser, ao mesmo tempo, um estado judeu e democrático? Quanto mais Israel insiste em se descrever como “um estado judeu” ou “o estado judeu”, mais os 20% de árabes israelenses são levados a se sentir como cidadãos de segunda categoria. Israel não pode jamais ser o estado de todos os seus cidadãos e, dessa forma, reivindicar ser verdadeiramente democrático. A ocupação da Cisjordânia por Israel desde 1967 tornou o problema ainda mais grave porque agora é preciso lidar com o problema de todos os árabes que vivem debaixo do controle israelense. Muitos argumentam que Israel já criou, efetivamente, um estado unificado, e muitos observadores – incluindo até alguns políticos judeus israelenses – alertam que se instaurou um regime de apartheid.
A segunda parte de De quem é a Terra Santa? traça o tema da terra prometida do Gênesis ao Apocalipse, estudando as promessas sobre a terra e as profecias acerca de um retorno à terra no Antigo Testamento, além de como a ideia da terra é entendida por Jesus e pelos escritores do Novo Testamento. Concluo que, segundo os escritores do NT, as promessas a respeito da terra e da nação de Israel começaram a se cumprir na vinda do Reino de Deus em Jesus, o Messias. Por isso, refuto a ideia de que as promessas sobre a terra dão ao povo judeu um direito divino à terra para sempre. Também refuto a ideia de que, uma vez cumpridas as promessas sobre o retorno à terra no retorno após o exílio em 536 a.C, elas foram cumpridas mais uma vez no retorno dos judeus à terra desde 1880 e no estabelecimento do estado de Israel. Crenças desse tipo são, em geral, conhecidas como “Restauracionismo”, e têm sido aguardadas por muitos cristãos desde a época dos puritanos no século 17.
O Dispensacionalismo foi desenvolvido como um sistema profético por John Nelson Darby e, como Ferreira ressalta, desenvolveu-se em diferentes direções desde então.
Entendo que não discuti as formas mais recentes de Dispensacionalismo. Mas se, como diz Ferreira, a forma mais tradicional de Dispensacionalismo é a mais popular no Brasil, a crítica descrita em De quem é a Terra Santa? permanece relevante para eles.
Tenho ciência que alguns estudiosos agora posicionam-se como “Dispensacionalistas Progressistas”. Em um livro recente, The New Christian Zionism (O Novo Sionismo Cristão), escritores como Gerald McDermott, Darrell Bock e Craig Blessing questionam algumas das suposições do Dispensacionalismo tradicional – como a interpretação literal da Escritura e a clara distinção entre Israel e a Igreja. Eles não se sentem mais compelidos a sempre adotar uma interpretação literal da Escritura, e não enxergam uma completa separação entre Israel e a Igreja. A despeito dessas modificações, contudo, eles ainda mantém as suposições básicas do Restauracionismo e, portanto, ainda veem profundo significado bíblico e teológico no retorno dos judeus à terra e no estabelecimento de um estado judeu. São essas as premissas que são questionadas no livro. Sugiro, portanto, que ainda que o todo o sistema dispensacionalista seja colocado de lado, todos os problemas relacionados ao Restauracionismo ainda permanecem.
O Professor Ferreira diz que eu não dei “ênfase na pregação do evangelho do Príncipe da Paz, Jesus, o único Messias e redentor de todas as etnias, incluindo judeus e árabes”. Mas será que o Príncipe da Paz não tem nada a dizer sobre os colonos judeus na Cisjordânia que deliberadamente arrancam ou cortam as oliveiras de seus vizinhos palestinos e têm água em abundância para encher suas piscinas e regar seus gramados enquanto os palestinos sofrem constantemente com a escassez de água?
Qual a probabilidade de os árabes muçulmanos estarem abertos ao evangelho quando souberem que milhões de cristãos evangélicos ao redor do mundo apoiam completamente todo o empreendimento sionista e aplaudem muitas, se não todas, as políticas e ações dos sucessivos governos israelenses? O profeta Elias não tinha mensagem alguma de paz a Acabe quando ele roubou a vinha de Nabote. E João Batista tinha coisas duras a dizer a quem, em resposta à sua pregação, perguntasse: “O que devemos fazer?”. Jesus disse: “Bem-aventurados os pacificadores” (Mt 5.9). Mas ele também disse: “Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça” (Mt 5.6), e a palavra grega dikaiosune pode muito bem ser traduzida como “justiça”. Não deveria uma preocupação com a pregação do evangelho tanto a judeus como a árabes estar ligada a uma paixão por justiça?
Minha resposta final é que penso ser difícil compreender como meu argumento pode ser descrito como apoiando-se em “notórios oponentes do judaísmo”. Embora eu compreenda totalmente, e tenha alguma simpatia pela visão sionista original de um retorno dos judeus à terra de seus ancestrais, não posso deixar de ser um crítico do caminho que, dos anos 1920 em diante, muitos sionistas tomaram ao rejeitar a forma mais irênica de sionismo, que busca uma coexistência pacífica com os árabes, e abraçaram uma forma mais agressiva de sionismo, que faz de tudo para estabelecer uma maioria judaica e um estado judeu. Se esse é meu argumento-base sobre a história do conflito, não vejo como isso pode ser considerado uma crítica ao judaísmo. Se eu, como cristão, creio que Jesus foi o Messias prometido, a maior parte dos judeus, inevitavelmente, achará minhas crenças sobre Jesus equivocadas e, talvez, até ofensivas. Mas isso faz de mim um oponente do judaísmo?
Da mesma forma, estou intrigado e entristecido com a acusação de antissemitismo. Grande parte da minha análise histórica é baseada em escritos de judeus que criticam, assim como eu, o modo como o sionismo se desenvolveu. Esses escritores judeus também devem ser acusados de antissemitismo? Como críticas legítimas ao Estado de Israel podem ser interpretadas como “preconceito contra Israel” e como “antissemitismo”? Onde está a antipatia ou antagonismo em relação ao povo judeu simplesmente porque eles são judeus? Temo que a acusação de antissemitismo tenha se tornado, nos últimos anos, a maneira mais simples e fácil de encerrar um debate sério – tanto na esfera pública quanto entre cristãos que creem na Bíblia – sobre a história e a política do conflito entre israelenses e palestinos e sobre interpretação bíblica e teologia.
Colin Chapman
6 de setembro de 2019
Alguns dos temas levantados aqui relacionados ao Islã e, de forma mais ampla, ao Oriente Médio, são explorados nos seguintes artigos de Colin Chapman:
“Christian Responses to Islam, Islamism and ‘Islamic Terrorism’”, Cambridge Papers, vol 16, no. 2, June 2007; in http://www.jubilee-centre.org/christian-responses-to-islam-islamism-and-islamic-terrorism-by-colin-chapman/
“Christian Responses to Islamism and Violence in the Name of Islam”, Transformation, vol 34.2, March 2017; in https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0265378817695727
“Can Religion and Politics be Separated in the Middle East Today?”, website de Stephen Sizer, Peacemaker Trust; and Zwemer Center; in https://www.stephensizer.com/2018/12/can-religion-and-politics-be-separated-in-the-middle-east-today/
Nota do tradutor – Para saber mais sobre o que é o Dispensacionalismo, suas origens, e como ele se alastrou pelo mundo, chegando ao Brasil, leia o eBook Israel, Armagedom e os árabes palestinos, de Marcos Amado (2019).